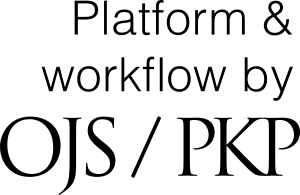REFLEXÕES SOBRE AS TESES ACERCA A DISCRIMINAÇÃO FEMININA NO ILUMINISMO JURÍDICO E SEUS REFLEXOS NOS PROCESSOS DE CODIFICAÇÃO DO SÉCULO XIX
Palavras-chave:
REFLEXÕES, TESES, A DISCRIMINAÇÃO FEMININA NO ILUMINISMO JURÍDICO, REFLEXOS, PROCESSOS, CODIFICAÇÃO, SÉCULO XIXResumo
NOTA INTRODUTÓRIA
Nas comemorações dos 130 anos do curso de Direito oferecemos ao público uma reflexão acerca dos mecanismos de controle e de exclusão limitada aos quais as mulheres foram submetidas entre 1750-1800. Nos referimos às teses elaboradas por teóricos do Iluminismo jurídico e que, posteriormente, serão defendidas pelo positivismo criminológico, na segunda metade do século XIX[2].
Entendemos que a mulher sofre, com a passagem do Iluminismo para o liberalismo, o que denominamos de Inclusão Limitada. Para que o controle sobre as mulheres fosse efetivo era necessário que o legislador criasse normas jurídicas que autorizassem o exercício do domínio masculino. Para tanto, foram produzidas normas que delimitavam e restringiam direitos das mulheres e normas que excluíam propositadamente a mulher da condição de sujeito de direitos, concedendo direitos exclusivamente aos homens.
Em relação ao primeiro tipo de normas, recordamos aquelas que classificavam as mulheres como parcialmente incapazes e requeriam a representação do marido, pai ou tutor para o exercício de atos da vida civil. Em relação a normas que excluem a mulher sem sequer mencioná-la, podemos citar o voto feminino. Trata-se aqui de um controle exercido de forma negativa. Apesar de serem “silêncios legislativos”, possuem uma grande força ideológica. Recordamos que em Constituições do século XIX (ou em normas sobre o que hoje denominamos de direito eleitoral) expressamente afirmavam que eram considerados eleitores exclusivamente “os homens”, sem nenhuma referência às mulheres[3]. Uma observação. Quando a norma eleitoral não previa expressamente o voto exclusivamente masculino, lançava-se mão a uma interpretação restritiva de direitos.
É o caso da Constituição do Império do Brasil , de 1824, que no capítulo IV- das eleições (arts. 90-97), não nominava a exclusão do voto feminino. O art. 91, inciso I, especificava, por exemplo, que teriam votos nas eleições primárias todos os “cidadãos brasileiros”, que se encontravam no gozo de seus direitos políticos. Esta determinação foi interpretada de maneira restritiva, supondo que o constituinte só se referiria aos homens. E de fato, o voto feminino só foi admitido no Brasil em 1932.
Neste estudo situaremos, a modo exemplificativo, o pensamento de dois autores, para demonstrar como a discriminação da mulher no discurso iluminista é incorporada pelo discurso jurídico de inícios do século XIX. Trata-se do filósofo Arthur Schopenhauer e do civilista português José Homen de Corrêa Telles.
Downloads
Referências
Notas:
[1] Professora titular de teoria do direito e vice-diretora da faculdade de direito da UFRJ.
[2] O ponto de convergência entre iluminismo e escola positivista criminológica da segunda metade do século XIX em relação à discriminação feminina é o controle da mulher por meio de um discurso fundamentado nas ciências naturais. A biologia passa a ser um instrumento de controle das mulheres, sendo seus argumentos considerados inquestionáveis. Isto legitima a produção de normas jurídicas discriminatórias ao longo de todo o século XIX e primeiras décadas do século XX.
[3] Para uma aproximação com o tema, cf. Dubois, 1980 e 1998.
[4] Sobre a revolução francesa, ver, entre outros, Burke, 1989.
[5] Sobre Iluminismo e sua vertente jurídica, com atenção a questão penal, ver, entre outros, Cassirer, 1932; Ferrajoli,1990,pp. XVI, 9 e ss., 99-100;Cattaneo, 1991; Kurt, 2001; Alves, 2014 (especialmente sobre a discussão acerca da punição).
[6] O termo é empregado aqui no sentido kantiano, Ver Kant, 1874. A evolução histórica demonstrou que os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade foram temperados pelos fortes interesses capitalistas, que bloquearam os movimentos de crítica e de emancipação intelectual e política.
[7] Luhmann, 1997, p. 27; Dimoulis, 2000, pp. 217-220
[8] Sabadell, 2001.
[9] Wollstonecraft, 2004 (a primeira edição da obra que aqui se cita datado ano de 1792). Para uma ulterior leitura do papel das mulheres no iluminismo, Cfr., também, Michelet, 1984.
[10] Sobre essa questão, Cfr., entre outras, Okin, 1992, p. 99 e ss; Puleo, 1993.
[11] Trata-se de um discurso ideológico que serve para as mulheres que se encontravam em melhores condições de vida. Tanto na Europa como nas Américas, as mulheres pobres sempre trabalharam. Pensando na questão racial, o feminismo negro questiona em parte essa formulação teórica, recordando que durante e após a abolição da escravatura, as mulheres negras sempre trabalharam para sobreviver.
[12] Corrêa Telles, 1860, T.I, p.65, núm.380.
[13] Ibidem.
[14] Landes, 1998. Como mencionamos anteriormente essa explicação deve ser reconsiderada em relação à situação das mulheres pobres, negras e indígenas.
[15] Citamos aqui as passagens do texto de Corrêa Telles e Schopenhauer porque são relevantes para a análise que se aqui se desenvolve. As obras de Corrêa telles são de fácil acesso no Brasil, justamente dada a sua grande importância no debate sobre o direito civil no país ao longo do século XIX.
[16] Corrêa Telles, 1860, tomo I, p.41, núm. 232.
[17]Corrêa Telles, tomo II, p.65, núm. 380. Curiosamente, o autor apresenta como argumento para a sua afirmação o texto do Genesis e o art. 184 do código prussiano.
[18]Sabadell, 1998.
[19] Há uma biografia, em forma de romance, onde são apresentados dados significativos sobre a vida de Johanna. Ver, Bergmann, 2002. Para consultar ulteriores estudos sobre sua produção literária, Ver Diethe, 1998 e Cartwright 2010.
[20] Schopenhauer, 2011, p.6.
[21] Schopenhauer, 2011, p.8.
[22] Rousseau, 1997.
[23] Schopenhauer, 2011, p.63.
[24]Schopenhauer, 2011, p.64.
[25]Schopenhauer,2011, p.64.
[26] Ibidem.