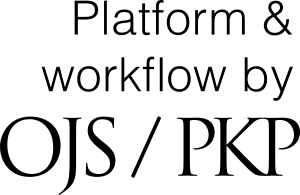ESPAÇO DE DISCUSSÃO 13 – QUESTÃO RACIAL
Palavras-chave:
criminologia crítica, feminismo descolonial, raça, criminalidade feminina, cárcereResumo
Em junho de 2016, o DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) veiculou dados alarmantes sobre o encarceramento das mulheres. Conforme o relatório lançado houve um aumento de 567% da população carcerária feminina, nos anos de 2000 a 2014. Diante desse quadro, se fez cada vez mais urgente um debate crítico quanto a criminalização das mulheres e suas particularidades, principalmente quanto ao perfil da população feminina encarcerada, que é composta por mais de 50% de mulheres negras. Nesse ínterim, o presente trabalho busca por meio de um recorte bibliográfico, trazer os principais discursos feitos pela criminologia crítica quanto a temática do encarceramento feminino e demonstrar como tal ciência foi omissa quanto a questão de raça E a partir disso, tentar promover um diálogo entre a criminologia crítica e o feminismo decolonial, na tentativa de superar as lacunas existentes na criminologia e construir discursos condizente com a realidade vivenciada pelo Brasil.
Abstract: In June 2016, DEPEN (National Penitentiary Department) reported alarming data on the imprisonment of women. According to the report released, there was a 567% increase in the female prison population in the years 2000 to 2014. In the face of this situation, a critical debate about the criminalization of women and their particularities, especially regarding the female prisoner population profile, which is made up of more than 50% of black women, has becomes increasingly urgent. In the meantime, the present work seeks, through a bibliographic clipping, to bring the main discourses made by critical criminology regarding the subject of female imprisonment and to demonstrate how such science was silent about the issue of race. From this, it tries to promote a dialogue between critical criminology and decolonial feminism in an attempt to overcome the existing gaps in criminology and construct discourses consistent with the reality experienced by Brazil.
Downloads
Referências
Referências
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10/05/2018.
BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2000.
CLETO, Murilo. “O triunfo da antipolítica”. In: In: JINKINGS, Ivana; DORIA, Kim; CLETO, Murilo (org.). Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise política. São Paulo: Boitempo, 2017.
CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008.
CUNHA, Jamilly Rodrigues da et al. “Processos associativistas entre ciganos: discutindo o projeto político de uma família cigana em Condado-PB”. In: 29ª Reunião Brasileira de Antropologia, Natal, 2014. Disponível em
<http://www.29rba.abant.org.br/resources/anais/1/1402019615_ARQUIVO_ArtigoJamillyCu nhaUFPE.pdf>. Acesso em: 03/05/2017.
FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. “El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la descolonización”. In: GARAVITO, César Rodríguez. El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011.
FERNANDES, Florestan. Florestan Fernandes na Constituinte: Leituras para a Reforma Política. São Paulo: Expressão Popular, 2014.
GARGARELLA, Roberto. La sala de máquinas de la Constitución: dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010). Buenos Aires: Katz Editores, 2014.
GOLDFARB, Maria Patrícia Lopes. O “tempo de atrás”: um estudo da identidade cigana em Sousa-PB. 2004. João Pessoa: Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba (João Pessoa), 2004.
GUILHERME, Cássio Augusto. “O golpe do jaburus: os caminhos do PMDB no golpe de 2016”. In: Revista Urutágua, Marigá, n. 36, 2017.
JINKINGS, Ivana. “O golpe que tem vergonha de ser chamado de golpe”. In: JINKINGS, Ivana; DORIA, Kim; CLETO, Murilo (org.). Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise política. São Paulo: Boitempo, 2017.
HANNERZ, Ulf. “Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave da antropologia transnacional”. In: Mana, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, jan/abril 1997.
INESC. “Apenas 6% do recurso federal para promoção da igualdade racial foi executado”. In: INESC, 21 de novembro de 2017. <http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2017/dezembro/novembro/apenas-6-do-recurso-federal-para-promocao-da-igualdade-racial-foi-executado>. Acesso em: 27/06/2018.
LITTLE, Paul E. “Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da territorialidade”. In: Anuário Antropológico, Rio de Janeiro, 2004.
PONTUAL, Pedro. “Desafios à construção da democracia participativa no Brasil: a prática dos conselhos de gestão das políticas públicas”. In: Instituto Polis. São Paulo, 2008. Disponível em: <http://polis.org.br/publicacoes/desafios-a-construcao-da-democracia-participativa-no-brasil-a-pratica-dos-conselhos-de-gestao-das-politicas-publicas/>. Acesso em: 26/06/2018.
QUIJANO, A. “Colonialidad del Poder y Classificacíon Social”. In: “Journal Of World-systems Research”, Santa Cruz/Califórnia, v. 2, n. , p.342-386, 2000. Disponível em: <http://jwsr.ucr.edu/archive/vol6/number2/pdf/jwsr-v6n2.pdf>. Acesso em: 16/12/2016.
RDA. “Governo Temer reduz em 35% investimentos em políticas de direitos humanos”. In: Rede Brasil Atual, 05 de janeiro de 2017. <http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/01/governo-temer-reduz-em-35-investimentos-em-politicas-de-direitos-humanos-2206.html>. Acesso em: 27/06/2018.
SILVA, Louise Caroline Lima e. Conferências Nacionais de políticas públicas e democracia participativa: Conferências de políticas para as mulheres e decisões governamentais no período Lula (2003-2010). Recife: Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, 2012.
SILVA, Phillipe Cupertino Salloum e; MEDEIROS FILHO, Renato Katiano Alves de. “Direitos Humanos e Povos Tradicionais: Breves relatos da experiência da Assessoria Universitária Jurídica Popular das FIP na Comunidade calon de Condado-PB”. In: Revista de Estudos e Investigações Antropológicas, Recife, v. 2, 2017, p. 92-104.
SOUZA, R. G. “Democracia Participativa: Resgate Histórico e uma Aproximação da Visão dos Atores da Sociedade Civil”. In: Arquitetura da Participação no Brasil: avanços e desafios. Brasília: POLIS/INESC, 2011.
ZIGONI, Carmela. “Quanto vale a igualdade racial”. In: INESC, 15 de julho de 2015. <http://www.inesc.org.br/artigos/artigo-quanto-vale-a-igualdade-racial.>. Acesso em: 27/06/2018.
______. “”. In: INESC, 14 de dezembro de 2017. <http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2017/dezembro/racismo-institucional-a-triste-realidade-de-quem-paga-impostos-e-nao-recebe-retorno-algum>. Acesso em: 27/06/2018.
NOTAS:
[1] Trabalho apresentado ao Espaço de Discussão 13- Questão Racial e direito- do 7º Seminário Direitos, Pesquisa e Movimentos Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 27 a 30 de abril de 2018.
[2] Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, mestranda em Direito pela Universidade Estadual Paulista – UNESP. Bolsista pelo programa CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). E-mail: jessiscury@hotmail.com.
[3] Graduado em Direito pela UNESP (1990), mestre (1998) e doutor (2003) em Direito pela UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Pós-doutor pela Universidade de Sevilla - Espanha (2012). Professor Assistente-doutor de Direito Penal do Departamento de Direito Público da UNESP; Promotor de Justiça. E-mail: pauloborges@franca.unesp.br.
[4] Levantamento Nacional de Informação Penintenciária, junho 2016, realizado pelo Departamento Nacional Penintanciário (DEPEN). Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf . Acesso: 01 março 2018.
[5] Levantamento Nacional de Informação Penintenciária, junho 2014, realizado pelo Departamento Nacional Penintenciário (DEPEN). Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf. Acesso: 01 março 2018.
[6] Pode-se considerar como paradigma etiológico, a introdução da Criminologia como ciência, desenvolvido na Europa no século XIX, sendo sua principal característica a busca pela causa da criminalidade, que seria pré-constituída (ANDRADADE, 1995).
[7] Entende-se como classe dominante, aquela que está interessada na contenção do desvio gerando a manutenção dos interesses hegemônicos, enquanto as classes subalternas seriam aquelas que lutam radicalmente contra os mecanismos de definição e seleção de comportamento (BARATTA, 2002).
[8]ED 13 - Questão racial e Direito do 7º Seminário Direitos, Pesquisa e Movimentos Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 27 a 30 de abril de 2018.
[9]Graduanda de História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; cristianeeliasuerj@yahoo.com.br; (21) 982881609
[10]Graduanda em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; grazielle.dir@gmail.com; (21) 96970-9279.
[11] Na obra de Lara é apresentado um estimativa de que chegaram ao Brasil 50 mil africanos escravizados até 1600, 160 mil entre 1600 e 1640, 400 mil entre 1640 e 1700, 960 mil entre 1700 e 1760 e 726 mil entre 1760 e 1800.
[12] Gayatri Spivak demonstra que o othering foi utilizado para a construção da imagem de uma Europa racional e moderna e, ao mesmo tempo, criou-se /um outro – as demais culturais do mundo, representadas como atrasadas –, para, dessa forma, o europeu impor sua primazia sobre as colônias na escala civilizatória. (SPIVAK, 1985 apud GONÇALVES, 2017)
[13] Clóvis Moura afirma que, durante a escravização, tal violência é também extraeconômica, pois o sistema escravista utilizou de meios coercitivos e violência física para submeter os africanos ao trabalho forçado.
[14] Graduando no curso Bacharelado em Direito pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus IV, Jacobina, email: uebertvinicius@gmail.com, tel. (74) 9 91202970.
[15] Grande massacre; chacina, carnificina.
[16] Segundo o artigo 1° da lei 2889/1956, consiste na intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso.
[17] Massacre de um grande número de pessoas; carnificina; mortandade.
[18] Sistema de desigualdade que se baseia em raça, tratada de formas distintas e preconceituosas em instituições econômicas, políticas e sociais, órgãos públicos governamentais, corporações privadas e universidades públicas e particulares.
[19] Termo extraído do livro “A guerra não declarada na visão de um favelado”, lançado pelo rapper Carlos Eduardo Taddeo, em 2012, com 616 páginas, em que defende que há uma guerra não declarada no território brasileiro, que aniquila um número de habitantes das periferias superior ao de países em guerra civil. Esse escritor, rapper, palestrante e revolucionário vivencia essa guerra dentro de suas trincheiras, ele está “no campo de concentração antes, durante e depois da matança”. No alto de sua 5º série, não concluída, do ensino público fundamental intitula-se como um “autodidata em morticínio” (sobre) vivendo na Era das Chacinas.
[20] Termo extraído do título do álbum duplo chamado “A fantástica fábrica de cadáver”, lançado em dezembro de 2014 pelo rapper Eduardo Taddeo, ex-integrante do grupo Facção Central.
[21] Impende ressaltar que a crítica que é feita aqui não diz respeito a todos os integrantes dela, haja vista que possuem exceções, mas sim à polícia militar enquanto instituição, criada como “Guarda Real da Polícia”, em 1809, para proteger os interesses da classe dominante e reprimir aqueles que atentem contra esta ou às suas propriedades.
[22] Movimento de mães que tiveram seus filhos executados durante o chamado “Crimes de Maio de 2006”. “[...] O acontecimento mais brutal e mais emblemático até aqui desta “nova era democrática”: mais de 500 pessoas assassinadas, em menos de 10 dias, somente no estado de São Paulo, por agentes policiais e grupos de extermínio em pronta ‘defesa da ordem’. O maior massacre da histórica contemporânea brasileira. Em pouco mais de uma semana, foram mais jovens pobres e negros assassinados do que durante os mais de 20 anos da terrível ditadura civil-militar assassinaram nas fileiras de seus opositores, em todo o país”, aponta Danilo Dara (2011, p. 92).
[23] O sistema penal do país foi criado para controlar, perseguir e aniquilar os herdeiros da escravidão histórica (pobres, negros e periféricos).
[24] Expressão construída a partir da reflexão que fizemos ao analisar o fenômeno do genocídio e o sistema de “justiça”.
[25] Themis é a representação da justiça na mitologia grega. De olhos vendados, com uma espada na mão e uma balança na outra.
[26] Roberto Lyra Filho (1986) aponta que o Direito Alternativo é aquele que vai de encontro à estrutura estatal-burocrática-autoritária de poder, pois desmistifica o Direito como código cifrado e defende o processo sociológico e de libertação do Direito, não se restringindo às leis emanadas do Estado. Portanto, descreve que “se o Direito é reduzido à pura legalidade, já representa a dominação ilegítima, por força desta mesma suposta identidade; e este ‘Direito’ passa, então, das normas estatais, castrado, morto e embalsamado, para o necrotério duma pseudociência, que os juristas conservadores, não à toa, chamam de ‘dogmática’. Uma ciência verdadeira, entretanto, não pode fundar-se em ‘dogmas’, que divinizam as normas do Estado, transformam essas práticas pseudocientíficas em tarefa de boys do imperialismo e da dominação e degradam a procura do saber numa ladainha de capangas inconscientes ou espertos” (Lyra Filho, 1986, p. 10-11).
[27] “A Pátria amada que guarda seus filhos sob seu solo, invisíveis na história e na indigência, sejam presos políticos ou vítimas de grupos de extermínio que praticam a assepsia social, não pode ser uma mãe gentil” (Gabriella Barbosa, 2015, p. 237).
[28] O médico baiano Nina Rodrigues foi um dos adeptos das ideias de Lombroso. Seus discípulos criaram a “escola Nina Rodrigues” e fundou-se a Medicina Legal no país.
[29] A Lei n°. 9.459 de 1997, alterou os arts. 1° e 20 da Lei n°. 7.716, de 5 de janeiro de 1989, mais conhecida como Lei Caó, e incluiu no artigo 1°, a punição pelos crimes resultantes de preconceito e discriminação envolvendo as questões de etnia, religião ou procedência nacional, além do artigo 20: “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.
[30] Ciência positivista, da classe dominante, portanto.
[31] “[...] A realização pessoal de Hitler se configuraria em torno de seu principal ideal, unir o homem perfeito de raça pura, na formação de uma nova Alemanha, possibilitando criar uma máquina de guerra poderosa, e ideologicamente forte, a Waffen-SS” (Costa, 2013, p. 19).
[32] Disponível em: <http://super.abril.com.br/historia/a-industria-da-morte/>. Acesso em: 06 jan. 2017.
[33] Maria Eunice (1999, p. 121) descreve que a eugenia, criada no século XIX por Francis Galton, “é um conjunto de idéias e práticas relativas a um ‘melhoramento da raça humana’ ou, como foi definida por um de seus seguidores, ao ‘aprimoramento da raça humana pela seleção dos genitores tendo como base o estudo da hereditariedade’”.
[34] A Constituição brasileira de 1934 era controvérsia. Se, por um lado, detinha “um perfil mais social e interventor do Estado” (Souza Neto; Sarmento, 2014, p. 117), de outro, pregava a ideologia de “pureza racial” presente na eugenia. Portanto, tão contraditória ao ponto de buscar promover igualdade material e utilizar teorias e técnicas de separação do ser humano.
[35] Os livros didáticos, as escolas e a ciência positivista ressaltam e priorizam a ideologia do branqueamento e raramente enfatizam os pintores, escritores, pensadores e revolucionários negros e a contribuição destes na construção da historiografia nacional. Dessa forma, o âmbito escolar e universitário revela-se como agentes potencializadores do sistema educacional excludente que propaga relações ideológicas de poder e saber, tornando-o seletivo.
[36] Refere-se aqui à mídia como instrumento ideológico a serviço do Estado burguês.
[37] Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/matamos-amarildo-1601.html>. Acesso em: 21 out. 2016.
[38] Disponível em: <http://negrobelchior.cartacapital.com.br/pms-são-presos-por-fuzilamento--de-jovens-negros-no-rio>. Acesso em: 21 out. 2016.
[39] Segundo Gabriella Barbosa (2015, p. 33), “na narrativa em torno da história recente do Brasil, há que se evidenciar a relação estabelecida entre o governo militar e alguns setores da sociedade civil, apoiadoras do golpe. O estabelecimento desta relação foi uma das bases de sustentáculo do sistema ditatorial [...]”.
[40] O crime de genocídio só teve “preocupação internacional” após o término da Segunda Guerra Mundial, na qual houve uma política de extermínio por parte dos nazistas voltada aos judeus, em sua maioria, além dos prisioneiros de guerra soviéticos, dissidentes políticos poloneses e ciganos.
[41] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L2889.htm. Acesso em: 04 jan. 2017.
[42] WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2011: os jovens no Brasil / Julio Jacobo Waiselfisz. — São Paulo: Instituto Sangari; Brasília, DF: Ministério da Justiça, 2011.
[43] Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36461295>. Acesso em: 05 jan. 2017.
[44]Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/202785-jovem-negro-corre-5-vezes-o-risco-dobranco-de-ser-morto-no-nordeste.shtml>. Acesso em: 05 jan. 2017.
[45] Disponível em: https://nacoesunidas.org/cultura-toxica-generalizada-da-impunidade-para-crimes-de-guerra-em-darfur-esta-na-raiz-do-conflito/. Acesso em 05: jan. 2017.
[46] Disponível em: <http://memoriaebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-03-17/guerra-do-iraque-contabiliza-174-mil-mortes-em-dez-anos&ei=nDHzx9Fv&lc=pt-BR&s=1&m=8447host=www.google.com.br>. Acesso em: 21 out. 2016.
[47] Disponível em: <http://www.carosamigos.com.br/index.php/artigos-e-debates/5973-chacinadocabula-1ano-12-mortos-e-sentença-de-absolvição>. Acesso em: 21 out. 2016.
[48] Cerca de 1,1 milhão de pessoas foram mortas no campo de concentração de Auschwitz.
[49] Mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos (PPGS/UFSCar), Bacharel em Direitos pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade São Paulo (FDRP/USP) e Especialista em Direitos Humanos pela mesma universidade.
[50] Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade São Paulo (FDRP/USP)
[51] Na década de 1970 havia um conjunto de leis que revelava a preocupação do governo militar em relação às lutas antirracistas e ao seu potencial de contestação política. Tal preocupação se expressava tanto na Lei de Imprensa, quanto na Lei de Segurança Nacional (LSN) de 1967. A primeira previa em seu art. 1º e parágrafo: não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classe. A LSN em seu art. 33, item VI previa como crime a incitação ao ódio e discriminação racial‖ com agravamento de pena se o crime fosse praticado por meio da imprensa, panfleto ou escritos de qualquer natureza, radiofusão ou televisão. Além disso, o artigo 14 da referida lei previa como crime a propaganda adversa que consistia em: divulgar, por qualquer meio de publicidade, notícias falsas, tendenciosas ou deturpadas, de modo a pôr em perigo o bom nome, a autoridade, o crédito ou prestigio do Brasil.
[52] No dia sete de julho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo foi realizado um ato público em protesto contra a morte de um operário negro em uma delegacia de São Paulo e contra a proibição da entrada de quatro jogadores de vôlei no Clube de Regatas Tiete por serem negros. O ato teve repercussão nacional e internacional e resultou na formação de novas organizações negras, entre estas, do Movimento Negro Unificado (inicialmente com o nome de Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial).
[53] Entre os autores citados por Munanga (1999) destacam-se Sílvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Manuel Bonfim, Nina Rodrigues, João Batista Lacerda, Edgar Roquete Pinto, Oliveira Vianna e Gilberto Freyre.
[54] O século XIX foi marcado na ciência europeia pelo desenvolvimento das teorias raciais, do racismo biológico e da eugenia. Nas palavras de Munanga (1999): “Ao abordar a questão da mestiçagem do final do século XIX, os pensadores brasileiros se alimentaram sem dúvida do referencial teórico desenhado pelos cientistas ocidentais, isto é, europeus e americanos de sua época e da época anterior. A discussão travada por alguns iluministas a respeito do caráter ambivalente da mestiçagem, seja para explicar e confirmar a unidade da espécie humana (Buffon), seja para negá-la (Voltaire); a ideia da mestiçagem tida ora como um meio para estragar e degradar a boa raça, ora como um meio para reconduzir a espécie a seus traços originais; as ideias sobre a degenerescência da mestiçagem, etc., todo o arcabouço pseudocientífico engendrado pela especulação cerebral ocidental (...)” (p. 50).
[55] Nas palavras da intelectual afrocolombiana Claudia Mosquera “Para o caso colombiano é muito importante unir as reflexões sobre raça e ideologia da mestiçagem tri-étnica; essa última, andaime estruturante do processo republicano do século XIX, que fez difundir a ordem sociorracial se distanciado discursivamente das hierarquias da sociedade de castas colonial e proibindo, por meio de discursos público de poder como a Igreja, a escola, as universidades e os partidos políticos, que os novos cidadãos se referissem à raça, ao mesmo tempo em que favorecia certa mobilidade social àqueles que se mesclaram biologicamente, até apagar qualquer rastro da desgraça africana, e que adotaram as normas e os valores da sociedade branca-mestiça guardiã da brancura (...)” (ROSERO-LABBÉ, 2010, p. 18) (tradução nossa).
[56] A Revolução Haitiana, também conhecida por Revolta de São Domingos (1791-1804), foi o conflito que levou à eliminação da escravidão e à independência da ex-colônia de São Domingos, o Haiti. Em 1805, a ex-colônia foi reconhecida como o primeiro Estado independente formado por ex-escravizados e negros libertos. Nesse sentido, como aborda Marcos Lustrosa Queiroz (...) já no início do século XIX, o exemplo e o imaginário do Haiti permeavam as preocupações das elites brancas em relação ao numeroso contingente negro no Brasil. Com o objetivo de construção da nação, era necessária também a formação e a construção do ‘povo brasileiro’. Assim, antes mesmo do estabelecimento do discurso científico e do aprofundamento das fortes políticas imigrantistas de europeus na segunda metade do século XIX, ‘o povo brasileiro’ ia sendo tecido pelo ideal de embranquecimento e pela permanência de estruturas hierárquicas. Assim, “o ‘brasileiro’, como construção sócio-histórica, nasce atrelado a percepções racistas sobre os africanos e seus descendentes e tendo como pano de fundo o temor do Haiti e do Atlântico revolucionários. ” (QUEIROZ, 2017. p. 115). Para saber mais sobre a história da revolução dos negros na ex-colônia de São Domingo, ler: JAMES. C. L. R. Os jacobinos negros – Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos. Tradução Afonso Teixeira Filho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.
[57] Para compreendermos a eficácia do ideal de branqueamento, inclusive no segmento negro cabe acionar as reflexões de Souza (1983) sobre a dimensão subjetiva do racismo. Na perspectiva da autora, a população negra, tendo que se livrar da concepção tradicionalista que o definia economicamente, política e socialmente como inferior e submisso, e não possuindo uma outra concepção positiva de si mesmo, viu-se obrigada a tomar o branco como modelo de identidade, ao estruturar e levar a cabo a estratégia de ascensão social. A sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior (p. 19).
[58] Professora Assistente da UNIRIO e doutoranda do PPGSD/UFF
[59] Acadêmica de direito da UNIRIO
[60] Mestre em direitos humanos pela UFJF e advogada da Criola
[61] Acadêmico de direito da UNIRIO
[62] Como se verifica no trecho da petição do Instituto de Defesa da Vida e da Família: “A eliminação de bebês não é uma questão religiosa, embora muitos queiram levar o tema para esse caminho e não seja possível excluir a doutrina cristã desse assunto, conforme se verá no capítulo pertinente.” (grifo nosso)
[63] A Frente Parlamentar em Defesa da Família e Apoio à Vida que tem como presidente o senador e pastor evangélico Magno Malta. No dia do lançamento desta entidade, o senador presidente defendeu o projeto do “Estatuto da Família” e afirmou categoricamente que iria lutar contra campanhas pelo reconhecimento do casamento homossexual, da legalização do aborto e das drogas.
[64] Conselho Federal de Psicologia; Conselho Regional de Psicologia - DF e o Conselho Regional de Psicologia de SP.
[65] Amici Curiae deferidos: (i) Partido Social Cristão (petição nº 13776/2017), (ii) União dos Juristas Católicos de São Paulo - UJUCASP (petição nº 15803/2017) e (iii) Instituto de Defesa da Vida e da Família (petição nº 17406/2017).
[66] http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/AudnciaPblicaADPF442.pdf. Acesso em: 23/03/18
[67] http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373569. Acesso em: 26/03/18.
[68] Aguardando Designação de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
[69] Apensado ao PL 313/2007.
[70] Art. 103, CF § 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.
Lei 9.882, § 2o O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias.
[72] Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5144865
[73] Disponível em: http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/a144fd918d944afebc6fd61401e2e0e9.pdf
[74] Trabalho apresentado ao Espaço de Discussão Questão racial e o direito do 7º Seminário Direitos, Pesquisa e Movimentos Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 27 a 30 de abril de 2018.
[75] Doutorando em Teoria Jurídica Contemporânea pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba. Advogado. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz
[76] Apesar de diversas denominações, “cigano” é um termo genérico que teria surgido na Europa do Século 15 (BORGES, 2007), que geralmente transmitem um significado depreciativo (GHEORGHE, 1991), sendo que “rom” ou “roma”, “calon” ou “calin” representam denominações mais aceitas pelos próprios ciganos. Hoje, no Brasil, costumam-se distinguir pelo menos três grandes grupos étnicos reconhecidos como ciganos: os rom; sinti e os calons. Especula-se haver em torno de meio milhão de pessoas, 291 acampamentos, localizados em 21 estados. Os Rom brasileiros pertencem, principalmente, aos subgrupos kalderash, machwaia e rudari, originários da Romênia; aos horahané, orinduos da Turquia e da Grécia, e aos Lovara, com forte presença na Europa central (Hungria, Polônia, Eslováquia, República Tcheca e Alemanha). Os calons possuem grande expressvidade no território brasileiro, são associados aos povos tradicionais que também vieram de Portugal e Espanha, desde o final do século XVI, quando foram em grande parte expulsos em direção às colônias. Os sinti chegaram em nosso país principalmente após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, vindos da Alemanha e da França, onde foram massivamente perseguidos e submetididos aos campos de concentração (BRASIL, 2013).
[77] Calon e calin, na língua shib, significa, respectivamente, homem cigano e mulher cigana. Nessa linguagem, juron e jurin correspondem a homem não cigano e mulher não cigana, terminologias que serão adotadas no presente trabalho.
[78] A escolha por Maria Jane, como principal referência para esse artigo, dá-se pelo fato da minha experiência e parceria com a Associação Comunitária dos Ciganos de Condado, durante 3 anos em que fui coordenador do projeto de extensão de “Assessoria Jurídica Universitária Popular, Direitos Humanos e Comunidades Tradicionais” que atuou com e para a comunidade cigana do município de Condado, onde Maria Jane é a principal referênica interna e externa.
[79] Aproveitou-se que haveria a presença de referências ciganas de diferentes partes do Brasil em Brasília, na IV CONAPIR, com direito à ajuda de custo (deslocamento e diária) proporcionada pelos governos estaduais, para realizar espaços específicos para discutir a questão cigana na Procuradoria Geral da República, que passou a comemorar o “maio cigano”, a partir de 2018, assim como uma sessão especial no Congresso, onde tramita um projeto de lei intitulado “Estatuto do Cigano”, de autoria do senador Paulo Paim (Partido dos Trabalhadores).
[80] Referência à música “Travessia”, conhecida na voz de Milton Nascimento.
[81] Segundo Gargarella (2014), essas características estão relacionadas a dois fatos históricos mais significativo da época: a crise política e de direitos humanos decorrente das ditaduras e governos autoriários, e a a crise econômica relacionada a com a compilação de programas de ajuste fiscal, característica da década de 1990. Em linhas gerais, para o autor, as novas Constituições trouxeram os compromissos sociais dos documentos anteriores, porém, ao mesmo tempo, mantiveram a tradicional estrutura do poder verticalizado.
[82] Paul E. Little (2004) faz uma ressalva quanto ao conceito de povos tradicionais, pois, a partir de uma perspectiva etnográfica, por exemplo, as diferenças entre as sociedades indígenas, os quilombos, os caboclos, os caiçaras e outros grupos ditos tradicionais - além da heterogeneidade interna de cada uma dessas categorias - são tão grandes que não parece viável tratá-los na mesma classificação, o conceito de povos tradicionais contém tanto uma dimensão empírica quanto uma dimensão políticas, dimensões inseparáveis. O interesse do autor é situar o conceito no plano de reivindicações territoriais dos grupos sociais fundiariamente diferenciados frente ao Estado brasileiro. Para tanto, a opção pela palavra povos - em vez de grupos, comunidades, sociedades ou populações - coloca esse conceito nos debates sobre os direitos desses povos e esses direitos transformam-se em instrumento estratégico nas lutas por justiça social. O uso do conceito de povos tradicionais procura oferecer um mecanismo analítico capaz de juntar fatores como a existência de regimes de propriedade comum, o sentido de pertencimento a um lugar, a procura de autonomia cultural e práticas adaptativas sustentáveis que os variados grupos sociais aqui analisados mostram na atualidade.
[83] O segundo ciclo (1989-2005), que Raquel Fajardo (2011) chama de “constitucionalismo pluricultural”, são reconhecidas o direito (individual e coletivo) à identidade e à diversidade cultural, já introduzidas no primeiro ciclo, e desenvolvem ademais os conceitos de “nação multiétnica/multicultural” e de “Estado Pluricultural”, qualificando a natureza da população e avançando na redefinição do caráter do Estado. São os casos das Constituições da Colombia (1991), México e Paraguai (1992), Peru (1993), Bolívia e Argentina (1994), Equador (1996 e 1998) e Venezuela (1999). O terceiro ciclo, que a autora chama de “constitucionalismo plurinacional”, é composto por dois processos constituintes: Bolívia (2006-2009) e Equador (2008), documentos que propõem uma refundação do Estado a partir do reconhecimento explícito das raízes milenares dos povos indígenas ignorados na primeira fundação da republicana e que, portanto, coloca o desafio histórico de pôr fim ao colonialismo.
[84] Parente ainda acrescenta que a limitação no que tange ao controle social do orçamento, no âmbito federal, frustrou as expectativas de que se realizariam iniciativas de controle social do orçamento federal, dado o acúmulo de experiências do PT e de outros partidos de esquerda, em governos municipais e até em alguns casos no plano estadual. Exceto o processo de consulta sobre o Plano Plurianual (PPA) realizado em 2003 em audiências públicas realizadas com a sociedade civil organizada em diversos estados do Brasil, não foram realizadas outras iniciativas relevantes no sentido de democratizar a discussão do orçamento público, nem sequer disponibilizando as informações completas sobre o mesmo (PARENTE, 2008, p. 17).
[85] Louise Silva (ano) reconhece que a capacidade que as conferências e mesmo outras instituições participativas têm em influir sobre as alternativas de políticas e as decisões públicas. As decisões públicas estão submetidas a uma imensa variedade de influências, sendo praticamente inviável determinar uma única fonte como determinante. Os governos são influenciados por seu programa de governo e compromissos eleitorais, por seu partido e coalizações de partidos que os sustentam, pela correlação de forças no parlamento e na sociedade, pela conjuntura econômica e internacional, e um sem número de variáveis objetivas e subjetivas, ou seja, não influenciado apenas pelas conferências e demais espaços de democracia participativa.
[86] A sociedade civil em Gramsci seria o espaço de representação de interesses de classe e palco de um pluralismo de sujeitos, chamados de “privados” (associações, sindicatos, partidos políticos ONGs, igreja, entre outros), se configura como um espaço de disputa dos sujetos coletivos, dos “aparelhos privados” pela hegemonia, caracterizando-se por uma dimensão absolutamente contraditória e de enfrentamento. Já a a sociedade política seria formada pelos aparelhos burocráticos, administrativos e repressivos (polícia, poder judiciário entre outros). Gramsci, atualizando o pensamento marxista, entendeu ser necessário identificar a sociedade civil não mais na infra-estrutura, mas sim super-estrutura, como parte que compõe este Estado ampliado juntamente com a sociedade política.
[87] Segundo Ivana Jinkings, “o golpe propriamente dito remonta a 29 de outubro de 2015, quando foi lançado, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), copartícipe do governo e sigla do vice-presidente Michel Temer, o plano Uma ponte para o futuro; em 2 de dezembro o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (um dos chefes do ardil, atualmente afastado do cargo e em vias de ter seu mandato cassado por corrupção) abriu o processo de impeachment contra a presidente, alegando crime de responsabilidade com respeito à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa – as decantadas “pedaladas fiscais” [2] ; em 29 de março de 2016 o PMDB se retirou do governo; no dia 17 de abril o plenário da Câmara aprovou o relatório favorável ao impedimento da presidente, numa sessão em que parlamentares indiciados por corrupção e réus em processos diversos dedicaram seu voto a Deus e à família, numa espetacularização execrável da política; em 12 de maio, o Senado Federal também aprovou a abertura do processo que culminou no afastamento de Dilma Rousseff da presidência” (2017, p. 12-13).
[88] Referência a carta que Michel Temer divulgou, publicamente, como uma forma de demarcar seu rompimento, mais explícito com a presidente Dilma.
[89] Para Murilo Cleto, “Temer usa a rejeição dos brasileiros à política para implementar uma agenda que jamais passaria pelo crivo das urnas e que nem o PSDB teve coragem de expor em seu programa de governo. É como se as medidas de austeridade, que envolvem cortes em programas sociais e a desvinculação constitucional de gastos mínimos com saúde e educação, estivessem acima da política, como o mal necessário da tal “ponte para o futuro”, como o PMDB batizou o documento decisivo para que o empresariado decidisse subsidiar a deposição de Dilma, que nos leva, na melhor das hipóteses, para os anos 1990” (2017, p. 39).
[90] A emenda constitucional nº55/2016, aprovada em dezembro de 2016, inseriu no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias um “Novo Regime Fiscal”, com o intuito de limitar as despesas nas áreas primárias, como saúde e educação.
[91] “O orçamento do Ministério de Minas e Energia aumentou em 75% (R$4,04 bilhões em 2017 para R$ 7,06 bilhões em 2018), enquanto houve redução para agricultura familiar (36,3%), igualdade racial (31,3%), indígenas (5,9%) e meio ambiente (12,2%), no mesmo período” (ZIGONI, 2017).
[92] Referência a música canta por Elza Soares, do album “Deus é mulher”.
[93] Esse evento representou uma possibilidde de vivenciar, de ser apresentado a uma série de conhecimentos, cosmologias dos povos e comunidades tradicionais brasileiras que são praticamente ignorados no processo de ensino das faculdades de direito, altamente fragmentado e embasado em “certezas” epistêmicas que fazem a universidades roubarem do futuro jurista a possibilidade de pensar alternativas para a sociedade, reforçando o véu da ignorância e a insensibilidade, impondo-lhe um pensamento único como válido e gerando uma postura autômata ante o Direito, a sociedade e os sujeitos. Diante dessa realidade, Warat cria um movimento que chama de "despinguinização dos estudantes e operadores do Direito". Entende que precisamos de juristas que entendam de gente ao invés de entender apenas de normas. Assim, criou “a imagem do pingüim vermelho, um pingüim que simboliza o rompimento com a forma tradicional de ensinar e pensar o Direito, para despertar a sensibilidade do aluno na construção do homem para uma sociedade melhor”. Disponível em: <http://luisalbertowarat.blogspot.pt/2007/04/educao-pela-despinginizao.html>. Acesso em 24 jun. 2018.
[94] Adota-se psedônimos que não compromentem o desenvolvimento desse artigo.
[95] Jane sabia da minha curiosidade em conhecer ciganos e ciganas pertencentes a outras etnias, sendo que, até o momento (na conferência), havia tido contato apenas com a comunidade calon que habita o Nordeste brasileiro.
[96] Adota-se psedônimos que não compromentem o desenvolvimento desse artigo.
[97] A categoria “amigo” corresponde aos não ciganos que oferecem apoio e auxílio ao povo cigano.
[98] A categoria “cigano de verdade” ou, “cigano de pai e mãe” são categorias bastante usadas, assim como “falso cigano” para identificar e delimitar os atores que circulam em torno da questão cigana.
[99] Ao falar em solidariedade como um valor militante que adoto para minha vida, refiro-me ao fato de fazer uma opção de classe, de lutar para e com os povos ciganos. A solidariedade de classe é algo fundamental para que outras categorias, como eu, trabalhador da educação, professor universitário e pesquisador, se somem nas lutas pela defesa de direitos conquistados e a garantia do respeito à dignidade humana, em outras palavras, “buscar alternativas para elevar o ser humano a uma nova categoria, tanto na qualidade de vida quanto na qualidade de consciência e na construção de novos valores. Solidariedade é mais do que doar o que nos sobra, mas também o que nos pode fazer falta, por entendermos que o ser humano tem esta possibilidade de permitir que todos os povos tenham o direito de satisfazer suas necessidades mesmo que isto dependa da ajuda e da participação solidária de todos” (BOGO, 2009, p. 58-59).
[100] Nas palavras de Ademar Bogo, a “ternura significa reconhecimento. Reconhecer que há vida em tudo. [...] A ternura como valor está na linha do aperfeiçoamento do comportamento político e humano de um lutador do povo na sua relação com a coletividade. ” (BOGO, 2009, p. 65-66).
[101] Adota-se um psedônimo que não comprometem o desevolvimento desse artigo.
[102] Nas audiências públicas realizadas pelo MPF em Patos, interior da Paraíba, mais de uma calin apresentou essa mesma queixa, de serem intimidas, até mesmo pela polícia, por estarem trabalhando com a leitura de mãos ou de cartas (SILVA; LIMA FILHO, 2018).
[103] Adota-se um psedônimo que não comprometem o desevolvimento desse artigo.
[104] Raji é uma das pessoas que foi acusa de não ser uma “cigana de verdade”.
[105] Nos espaços que aconteceram no auditório principal, onde todos seguimentos estariam reunidos, uma palavra de ordem (em forma de grito) e um cartaz ficaram, respectivamente, evidentes: Fora Temer e Lula Livre. O ministro dos Direitos Humanos, assim como demais representantes do governo, tiveram dificuldades para iniciar e desenvolver seus discursos diante de gritos de “golpistas”, mas, especialmente “Fora Temer”. Posso estar enganado, mas não me recordo de nenhum cigano se somar às manifestações. Ao mesmo tempo, a maioria, pelo menos, se mostrou indiferente aos protestos, exceto Dona Maura que afirmou que “isso (os gritos) é um erro”. Por sua vez, Maria Jane inicia sua fala durante a audiência no Senado Federal falando “Fora Temer, Lula livre”, assim como Lu Na declara, em sua oportunidade fala, que “não estaríamos aqui se não fosse o presidente Lula” (29 de maio de 2018).
[106] Como percebemos, o debate acerca do racismo não pode se esgotar no colorismo.
[107] Barth (2000), em seus estudos, aponta, como um equívoco, a perspectiva de alguns antropólogos em definir “isolados culturais”, o deixa clara a dificuldade dos autores em tratar teoricamente as complexas interações entre o social e o cultural, reificando esses dois níveis da realidade através da equação “uma sociedade - uma cultura”. Barth A contribuição de Barth (2000) na discussão dos processos de afirmação e/ou manutenção da identidade é bem conhecida. Seu conceito de grupo étnico leva em consideração o constante movimento de construção de “fronteiras” ou “limites” organizacionais, culturais e políticos a partir dos quais os grupos distinguem-se uns dos outros. Em grupos aparentemente isolados, seria possível delinear de forma relativamente simples os atributos utilizados para definir um grupo étnico. Entretanto, Barth já observava, na década de 1960, que não existem isolados naturais e que as zonas limítrofes são áreas de contato e interação ou “zonas de fronteiras” (HANNERZ, 1997, p. 16).