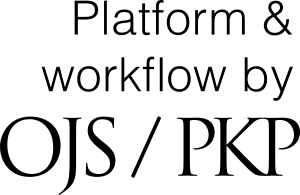A NOVA LINDB E O DIREITO DA INFRAESTRUTURA
Palavras-chave:
NOVA LINDB, DIREITO DA INFRAESTRUTURAResumo
Até bem pouco tempo, a lei continente das pautas de interpretação era a então denominada “Lei de Introdução ao Código Civil” (o vetusto Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942). A sinédoque da designação antiga refletia uma época em que a lei civil (mais até que a Constituição) era o eixo vetorial do nosso sistema jurídico. Tinha lugar o Direito Civil oitocentista, pautado em um Estado Liberal, que possuía seus pilares vincados nas figuras da família, da propriedade e da relação contratual – sob a orientação do então Código Civil de Beviláqua, de 1916. O tempo passou. E a Lei de Introdução foi rebatizada, por intermédio da Lei n°12.376, de 30 de dezembro de 2010, para refletir seu amplo espectro de incidência, passando a se designar “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”.
Mas seu conteúdo seguiu restrito aos problemas de interpretação do século passado. O Direito hoje, porém, é bastante diferente. Quatro fatores ressaltam.
A legalidade contemporânea vai muito além da lei em sentido estrito. Hoje, convivemos com uma pluralidade de fontes normativas (leis, decretos, resoluções, portarias e com o próprio viés normativo que passou a ser conferido à Constituição), sendo mais correto se falar em um “Bloco de Legalidade”, ou no que se denomina de “Juridicidade”. É dizer, se, outrora, predicava-se a análise da observância dos quadrantes da legalidade simples (que traz limites para as atividades privadas) e da legalidade qualificada (que guia o atuar da Administração Pública), atualmente, o espectro de controle da conformidade normativa espraia sua incidência para todo o conjunto normativo (tendo como diretriz orientadora a Constituição). As normas vinculantes, hoje, são muito mais diversas do que a lei estrita. A produção normativa infralegal transcende em muito o poder regulamentar atribuído ao Presidente da República pelo art. 84, IV, da CRFB. Temos normas editadas no âmbito de subsistemas jurídicos e que ora preenchem de conteúdo molduras definidas por leis-quadro, normas editadas no âmbito do processo de deslegalização (como ocorre, por exemplo, com as Agências Reguladoras) ou, ainda, normas de concretização editadas no âmbito de núcleos de competência normativa reservada, como ocorre com a Receita Federal
Disso decorre uma fragilização do conteúdo normativo. Nós assistimos a várias manifestações destes processos. A lei passa não mais a limitar, a fixar competências e a prescrever meios para atingir finalidades públicas. Ela passa a ir um pouco mais além, a incorporar bases, normas gerais, normas objetivas, dentro da ordem jurídica entendida não apenas enquanto legislação ordinária, mas também como base constitucional. É dizer, a textura normativa, para além de plurissêmica, é pontuada por termos técnicos e em grande medida impregnada de conceitos indeterminados, de forte conotação axiológica. Isso não apenas porque o legislador em si perdeu em técnica, mas fundamentalmente porque, de um lado, os temas e conflitos sobre os quais se normatiza são mais complexos e intrincados e, de outro, o arbitramento de interesses exige concessões normativas ou o recurso a prescrições abertas que deslocam a decisão do legislador para o intérprete. Daí surgirem prescrições como o direito de moradia, ao lazer, à vida saudável, ao meio ambiente equilibrado. Para isso, o Direito passa cada vez mais a recorrer a conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais. Nesse processo de normatização crescente da vida social, passamos a assistir ao crescimento das contradições entre pautas normativas não solúveis.
Some-se a isso o fato de que a complexidade da regulação faz as prescrições serem mais abertas, menos precisas. A mudança da forma como Estado intervém no domínio econômico (de uma intervenção direta para uma intervenção indireta) contribuiu para ampliação dos seus lindes normativos. De fato, é um erro a afirmação de acordo com a qual a delegação das atividades para a iniciativa privada, seja por intermédio de contratos de longo prazo (concessões, parcerias público-privadas, arrendamentos, dentre outros), seja pela desestatização de empresas estatais, fez com que o Estado se demitisse da sua função normativa. A profusão normativa das últimas duas décadas bem retrata esse excesso interventivo (e muita vez, intrusivo) da função reguladora.
O quarto fator é a multiplicação de polos legitimados para aplicar o Direito. Ocorre que ao tempo do Decreto-lei 4.657/42 quem tinha competência para interpretar o Direito com força vinculante era o Judiciário. Hoje, existem várias esferas com atribuição jurídica para interpretar e aplicar as normas de modo mandatório. Agências reguladoras, tribunais administrativos - como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN, o “Conselhinho”, consoante as Leis nº9.069/95, nº9.447/97, e, mais recentemente, a Lei nº13.506/17) e outros tantos - , os órgãos de controle - Tribunais de Contas, controladorias e corregedorias -, Árbitros, o Ministério Público, e outras tantas instâncias, aplicam o Direito diariamente em decisões que têm efeitos concretos. É dizer, se, de um lado, a Constituição de 1988, abriu um caminho fértil para a democratização (disciplinando, com grande detalhamento, instrumentos de participação popular, como o voto secreto, o plebiscito e o referendo), de outro, prestigiou a incidência de múltiplos controles. E esse fato não é em nada alterado pela inafastabilidade da jurisdição judicial prevista na Constituição (art. 5º, XXXV).
As sobreposições de controles somadas à crise de legitimação democrática importaram na substituição do Administrador Público pelo controlador, destacadamente no exercício de sua atividade-fim. A atuação do Ministério Público é ilustrativa neste particular. A “doutrina do promotor natural”, por exemplo, confere ao promotor de justiça a possibilidade de escolher, discricionariamente, quais situações, entendimentos, intepretações ou interesses públicos serão privilegiados em detrimento de outros. Na verdade, trata-se de uma forma de lassear o caráter institucional do parquet, outorgando uma individualização para cada membro que, para além de não ter amparo na Constituição, gera entendimentos contraditórios dentro da própria instituição, em prejuízo da segurança jurídica[2].
Para além de conflitos endógenos, a ampliação do espectro de competências dos controladores gera efeitos exógenos, interinstitucionais. Um exemplo ilustra o exposto. O art. 16 da Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) – ancorado na experiência cooperativa vivenciada no âmbito do Sistema Brasileiro de Direito da Concorrência –– disciplinou o acordo de leniência, nos seguintes quadrantes: “A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte”. Tal previsão gerou uma crise institucional entre a Controladoria-Geral da União (CGU), o Ministério Público Federal (MPF) e o Tribunal de Contas da União (TCU), cada qual invocando, ancorado na respectiva competência institucional para combater a corrupção, a prerrogativa de celebrar tal ajuste.
Disso decorre a instabilidade das decisões definitivas. As decisões dos gestores públicos passam, pois, a ser provisionais – sobrestadas pelos órgãos de controle. Cuida-se de uma cambialidade que gera instabilidade, abala a segurança jurídica, interfere em políticas públicas de longo prazo, arrefece a confiança dos particulares na gestão da coisa pública. Mas não só. Atemoriza-se o gestor público, que, mesmo atuando nos quadrantes da legalidade, teme em exercer a sua discricionariedade. Gera o “apagão das canetas”. Ninguém decide mais nada, com o receio de ser responsabilizado, pessoalmente. Para além de uma seleção adversa para o cargo de gestor público, o contexto de sobreposições de controle não protege o gestor de boa-fé. Na verdade, o desprestigia, bem como o afasta do setor público.
Atentos a esses fatores, já há algum tempo, os professores Floriano de Azevedo Marques Neto e Carlos Ari Sundfeld redigiram um anteprojeto de lei, endereçando soluções para essas questões. O Senador Anastasia encampou a iniciativa, dando impulso ao PLS n°3489/2015 no Senado. O Projeto tramitou, por mais de três anos, no Congresso, com audiências públicas e debates. Aprovado pelo Plenário do Senado Federal, em 19 de abril de 2017, a referida iniciativa foi enviada à Câmara dos Deputados, então sob a designação de PL nº7.448/2007. E, posteriormente, à sanção da Presidência, por intermédio da Mensagem n°10/2018.
Enviado à sanção, iniciou-se uma batalha renhida pelo veto. Alegou-se a falta de discussão, ser uma iniciativa ardilosa para ceifar o controle, havendo até quem afirmasse padecer de “inconstitucionalidade”. Muitas críticas foram dirigidas à lei argumentando que ela seria prenhe de conceitos também indeterminados e que trariam mais insegurança na aplicação jurídica.
A favor do projeto se uniram os nomes mais significativos do direito público e os principais economistas do país, de todos os matizes. As críticas se mostraram insustentáveis e o projeto, na sua essência, converteu-se na Lei n°13.655/2018, a qual é objeto do presente ensaio. Cuida-se de diploma que produzirá relevantes externalidades positivas nos setores de infraestrutura. Explica-se. É lugar-comum a afirmação de que os setores de infraestrutura são predicadores de segurança jurídica. Nada obstante, nesse ensaio, pretende-se, em primeiro lugar, demostrar que se cuida de uma afirmativa que tem lastro em fundamentos econômicos e jurídicos. E, em segundo lugar, estabelecer os efeitos que alguns dispositivos da Lei n°13.655/2018 trarão para tal setor.
Downloads
Referências
Referências Bibliográficas
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 22. Vide, também: GRAU, Eros. Ensaio e Discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005.
BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Segurança jurídica e proteção da confiança legítima no direito administrativo: análise sistemática e critérios de aplicação no direito administrativo brasileiro. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação da Profª Draª. Odete Medauar. São Paulo: USP, 2006.
CÂMARA, Jacintho Arruda. As autorizações da Lei Geral de Telecomunicações e a Teoria Geral do Direito Administrativo. Revista de Direito de Informática e Telecomunicações – RDIT. Belo Horizonte, ano 2, n. 3, p. 55-68, jul./dez. 2007.
CARDOSO, David Pereira. Os acordos substitutivos no Direito Administrativo. Negócio jurídico privado, contrato de direito público ou ato administrativo bilateral?. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 13, n. 49, p. 59-77, jan./mar. 2015
FERNANDES, Rodrigo. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio; MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Função pragmática da justiça na hermenêutica jurídica: lógica do ou no direito? Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica – RIHJ. Belo Horizonte, ano 1, n. 5, jan./dez. 2007.
FERRAZ, Luciano. Segurança jurídica positivada: interpretação, decadência e prescritibilidade. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 8, n. 30, p. 19-42, jul./set. 2010.
[1] CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999. p. 72 - 73.
FREITAS, Rafael Véras de. A Análise de Impacto Regulatório (AIR) no setor de energia elétrica. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 12, n. 46, p. 177-200, jul./set. 2014.
GARCIA, Flávio Amaral. A mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função integrativa das Agências. Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 59-83, mar./ago. 2014.
GUERRA, Sérgio; PALMA, Juliana Bonacorsi. Art. 26 Novo regime jurídico de negociação com Administração Pública. RDA - Revista de Direito Administrativo. Lei de introdução às Normas de Direito Brasileiro (Lei n° 13.655/2018), p. 149.
GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 4ª ed., Madrid: Civitas, 2004
KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução de Luiz Carlos Borges. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
MACEDO, Ronaldo Porto. Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2015.
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; CYMBALISTA, Tatiana Matiello. Os acordos substitutivos do procedimento sancionatório e da sanção. Biblioteca Digital - Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 8, n. 31, out./dez. 2010.
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Entre a independência institucional e neopatrimonialismo: a distorção da doutrina do promotor natural. In: RIBEIRO, Carlos Vinicius (Org.). Ministério Público: reflexões sobre princípios institucionais. São Paulo: Atlas, 2010.
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Juridicidade e Controle dos Acordos Regulatórios: O Caso TAC ANATEL. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4296871/mod_resource/content/1/Juridicidade%20e%20Controle%20dos%20Acordos%20Regulat%C3%B3rios%20-%20O%20Caso%20TAC%20ANATEL.pdf - Acesso em: 22/11/2018.
MARRARA, Thiago. Regulação consensual: o papel dos compromissos de cessação da prática no ajustamento de condutas. Revista Digital de Direito Administrativos).
MAURER, Hartmut. Direito administrativo geral. Tradução de Luís Afonso Heck. São Paulo: Manole, 2006.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009.
MOREIRA, Egon Bockmann. Direito Administrativo da escassez, contratações públicas e segurança jurídica: o que temos a aprender com a crise permanente. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 16, n. 61, p. 55-76, jan./mar. 2018.
MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das concessões de serviços público. São Paulo: Malheiros, 2010.
MOREIRA, Egon Bockmann. O Contrato Administrativo como instrumento de Governo. Coimbra: Março, 2012.
NERY, Ana Luiza de Andrade. Compromisso de ajustamento de conduta. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
NÓBREGA, Marcos. Contratos incompletos e infraestrutura: contratos administrativos, concessões de serviço público e PPPs. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 7, n. 25, abr./jun. 2009.
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Ativismo judicial, pragmatismo e capacidades institucionais: as novas tendências do controle judicial dos atos administrativos. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 10, n. 39, p. 9-36, out./dez. 2012.
PARGENDLER, Mariana; SALAMA, Bruno Meyerhof. Direito e consequência no Brasil: em busca de um discurso sobre o método. RDA – Revista de Direito Administrativo. Belo Horizonte, v. 262, jan./abr. 2013.
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito Civil Constitucional. 3ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e prática. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2005.
RODRIGUES, Walton Alencar. O controle da regulação no Brasil. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 7, n. 33, p. 345-358, 2005.
ROSILHO, André Janjácamo. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União. Tese de doutorado defendida na Faculdade de Direito da USP, em 2016.
SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Consenso e legalidade: vinculação da atividade administrativa consensual ao direito. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 7, n. 27, out./dez. 2009.
SILVA, Vasco Pereira da. Em busca do acto administrativo perdido. Coimbra: Almedina, 1998. p. 474. No mesmo sentido: KATO, Mariana Almeida. Os Acordos Substitutivos o termo de ajustamento de conduta. RDA - Revista de Direito Administrativo, v. 277, p.101-105/abril de 2018.
SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Acordos substitutivos nas sanções regulatórias. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 9, n. 34, p. 133-151, abr./jun. 2011.
SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Interpretações administrativas aderem à lei?. RDA – Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 260, p. 97-132, maio/ago. 2012.
TÁCITO, Caio. O poder de polícia e seus limites. Revista de Direito Administrativo (RDA), v. 27, p. 2, 1952.
WILLIAMSON, Oliver. Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. 1981.
Notas de Rodapé:
[1] Professor da FGV Direito Rio. Coordenador do Módulo de Concessões e de Infraestrutura da Pós-Graduação da FGV Direito Rio. Mestre em Direito da Regulação pela FGV. Advogado.
[2] MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Entre a independência institucional e neopatrimonialismo: a distorção da doutrina do promotor natural. In: RIBEIRO, Carlos Vinicius (Org.). Ministério Público: reflexões sobre princípios institucionais. São Paulo: Atlas, 2010.
[3] MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das concessões de serviços público. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 281.
[4] Os contratos de investimentos diferem dos contratos de despesa. Nos primeiros, a Administração Pública recebe investimentos dos particulares – por exemplo, os contratos de concessão e de PPPs; nos segundos, a Administração despende recurso, como ocorre nos contratos de empreitada tradicionais.
[5] MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 164.
[6] WILLIAMSON, Oliver. Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. 1981. p. 552.
[7] Feliz expressão cunhada por Egon Bockmann Moreira, que retrata a natureza consensual nesta relação jurídica de longo prazo.
[8] GARCIA, Flávio Amaral. A mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função integrativa das Agências. Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 59-83, mar./ago. 2014.
[9] Nesse sentido, v. NÓBREGA, Marcos. Contratos incompletos e infraestrutura: contratos administrativos, concessões de serviço público e PPPs. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 7, n. 25, abr./jun. 2009.
[10] MOREIRA, Egon Bockmann. O Contrato Administrativo como instrumento de Governo. Coimbra: Março, 2012.
[11] MACEDO, Ronaldo Porto. Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 131.
[12] Como demostrado por Juliana Bonacorsi de Palma – disponível em: http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/04/PALMA-Juliana-A-proposta-de-lei-da-seguran%C3%A7a-jur%C3%ADdica.pdf
[13] SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. op. cit. p. 215.
[14] RODRIGUES, Walton Alencar. O controle da regulação no Brasil. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 7, n. 33, p. 345-358, 2005. p. 346.
[15] ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 340-341.
[16] ROSILHO, André Janjácamo. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União. Tese de doutorado defendida na Faculdade de Direito da USP, em 2016.
[17] MOREIRA, Egon Bockmann. Direito Administrativo da escassez, contratações públicas e segurança jurídica: o que temos a aprender com a crise permanente. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 16, n. 61, p. 55-76, jan./mar. 2018.
[18] POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e prática. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2005, p. 39.
[19] POGREBINSCHI, Thamy. Ibdem.
[20] OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Ativismo judicial, pragmatismo e capacidades institucionais: as novas tendências do controle judicial dos atos administrativos. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 10, n. 39, p. 9-36, out./dez. 2012.
[21] FREITAS, Rafael Véras de. A Análise de Impacto Regulatório (AIR) no setor de energia elétrica. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 12, n. 46, p. 177-200, jul./set. 2014.
[22] PARGENDLER, Mariana; SALAMA, Bruno Meyerhof. Direito e consequência no Brasil: em busca de um discurso sobre o método. RDA – Revista de Direito Administrativo. Belo Horizonte, v. 262, jan./abr. 2013. Eis os julgados a que se referem os autores. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 526.276. Tribunal Pleno. Rel. min. Ellen Gracie Northfleet. J. 3/11/2010. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934. Tribunal Pleno. Rel. min. Ricardo Lewandowski. J. 27/5/2009.BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277. Tribunal Pleno. Rel. min. Ayres Britto. J. 5/5/2011. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186. Tribunal Pleno. Rel. min. Ricardo Lewandowski. J. 26/4/2012.
[23] RAMALHO, Bruno Araújo. O dever de motivação administrativa no contexto das escolhas regulatórias: uma análise da jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU). In: I Seminário de Integração FGV Direito Rio e Faculdade de Direito da UERJ, 2016, Rio de Janeiro. Transformações do Direito Administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias. v. 1. p. 123-155, Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016.
[24] FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio; MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Função pragmática da justiça na hermenêutica jurídica: lógica do ou no direito? Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica – RIHJ. Belo Horizonte, ano 1, n. 5, jan./dez. 2007.
[25] ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 22. Vide, também: GRAU, Eros. Ensaio e Discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005. p. 80-82; PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito Civil Constitucional. 3ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 26.
[26] KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução de Luiz Carlos Borges. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 236.
[27] SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Interpretações administrativas aderem à lei?. RDA – Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 260, p. 97-132, maio/ago. 2012.
[28] ADI 4277 / DF - DISTRITO FEDERAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Relator(a): Min. AYRES BRITTO Julgamento: 05/05/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
[29] MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 152. STF - MS 26.602, Voto do Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 04/10/2007. STF – ADI 5081, Relator: Min: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 27/5/2015, Data de Publicação: DJe 19/8/2015.
[30] BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Segurança jurídica e proteção da confiança legítima no direito administrativo: análise sistemática e critérios de aplicação no direito administrativo brasileiro. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação da Profª Draª. Odete Medauar. São Paulo: USP, 2006.
[31] GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 4ª ed., Madrid: Civitas, 2004. p. 69-74.
[32] FERRAZ, Luciano. Segurança jurídica positivada: interpretação, decadência e prescritibilidade. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 8, n. 30, p. 19-42, jul./set. 2010.
[33] CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999. p. 72 - 73.
[34] ROSILHO, André Janjácomo. op. cit.
[35] PALMA, Juliana Bonacorsi de. Disponível em: http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/04/PALMA-Juliana-A-proposta-de-lei-da-seguran%C3%A7a-jur%C3%ADdica.pdf.
[36] TÁCITO, Caio. O poder de polícia e seus limites. Revista de Direito Administrativo (RDA), v. 27, p. 2, 1952.
[37] Sobre o tema, V. CÂMARA, Jacintho Arruda. As autorizações da Lei Geral de Telecomunicações e a Teoria Geral do Direito Administrativo. Revista de Direito de Informática e Telecomunicações – RDIT. Belo Horizonte, ano 2, n. 3, p. 55-68, jul./dez. 2007.
[38] SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Consenso e legalidade: vinculação da atividade administrativa consensual ao direito. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 7, n. 27, out./dez. 2009.
[39] GUERRA, Sérgio; PALMA, Juliana Bonacorsi. Art. 26 Novo regime jurídico de negociação com Administração Pública. RDA - Revista de Direito Administrativo. Lei de introdução às Normas de Direito Brasileiro (Lei n° 13.655/2018), p. 149.
[40] Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Juridicidade e Controle dos Acordos Regulatórios: O Caso TAC ANATEL. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4296871/mod_resource/content/1/Juridicidade%20e%20Controle%20dos%20Acordos%20Regulat%C3%B3rios%20-%20O%20Caso%20TAC%20ANATEL.pdf - Acesso em: 22/11/2018.
[41] SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Acordos substitutivos nas sanções regulatórias. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 9, n. 34, p. 133-151, abr./jun. 2011).
[42] MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; CYMBALISTA, Tatiana Matiello. Os acordos substitutivos do procedimento sancionatório e da sanção. Biblioteca Digital - Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 8, n. 31, out./dez. 2010.
[43] MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; CYMBALISTA, Tatiana Matiello. op. cit.
[44] NERY, Ana Luiza de Andrade. Compromisso de ajustamento de conduta. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 156.
[45] FERNANDES, Rodrigo. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 77-78.
[46] SILVA, Vasco Pereira da. Em busca do acto administrativo perdido. Coimbra: Almedina, 1998. p. 474. No mesmo sentido: KATO, Mariana Almeida. Os Acordos Substitutivos o termo de ajustamento de conduta. RDA - Revista de Direito Administrativo, v. 277, p.101-105/abril de 2018.
[47] Tal pesquisa observa a ordenação de CARDOSO, David Pereira. Os acordos substitutivos no Direito Administrativo. Negócio jurídico privado, contrato de direito público ou ato administrativo bilateral?. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 13, n. 49, p. 59-77, jan./mar. 2015.
[48] GUERRA, Sérgio; PALMA, Juliana Bonacorsi. op. cit., p. 149.
[49] (MARRARA, Thiago. Regulação consensual: o papel dos compromissos de cessação da prática no ajustamento de condutas. Revista Digital de Direito Administrativos).
[50] MAURER, Hartmut. Direito administrativo geral. Tradução de Luís Afonso Heck. São Paulo: Manole, 2006. p. 191
[51] SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. op. cit. p. 234.
[52] GUERRA, Sérgio. PALMA, Juliana Bornacosia. op. cit. p. 149
[53] Sobre o tema, V. Floriano de Azevedo e PALMA, Juliana Bonacorsi de. Juridicidade e Controle dos Acordos Regulatórios: O Caso TAC ANATEL. Op. cit.
[54] GUERRA, Sérgio. PALMA, Juliana Bonacorsi. op. cit. p. 149.